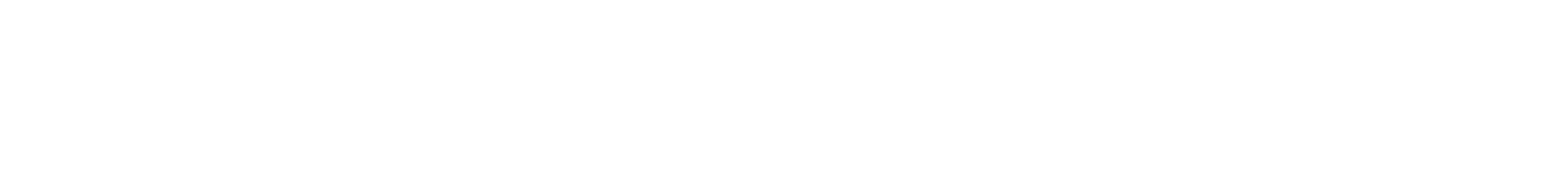Publicado na Folha de S. Paulo no dia 18 de março de 2021. Acesse aqui.
Otavio Frias Filho detestava o jornalismo do óbvio. Não acreditava na notícia de uma nota só.
Amava a incerteza da surpresa. Para o jornalista, o importante não deve ser o normal, o hábito ou a rotina. Importante é relatar e explicar o que muitas vezes descreveu como “o deslize”. O deslize deveria ser para o jornalista assim como o ato falho é para a psicanálise. A fonte reveladora do mistério da notícia.
Otavio sabia da necessidade de estilhaçar o fato, explodi-lo, desintegrá-lo e assim revelar seu “éthos” original. Nada de determinados passados. Ou certos futuros. O ministro Dias Toffoli chama 1964 de “movimento”. Os militares, de “revolução”. Ou será que foi golpe mesmo?
Como no poeta pernambucano Carlos Pena Filho, o importante seria “abrir-se ao acaso e amar o transitório”.
A Folha era, como é até hoje, mais do que pluralismos e contraditório de opiniões, análises, reportagens e imagens. É arte da informação, para a formação democrática. Para tanto, o leitor tem de bem compreender o que se diz. “As pesquisas mostram que nossos leitores compreendem muito menos do que gostaríamos”, dizia Otavio.
Por isso, como Diógenes pregava a seus colegas: “Didatismo! Didatismo!” No fundo, há um professor em cada jornalista. Um jornalista em cada professor.
Logo no começo, ele, recém-formado do Largo de São Francisco; eu, professor de direito em Olinda. Ele, diretor de Redação; eu, colunista da página 2. Ele, jovem; eu, bem mais adulto. Década de 1970 ainda.
Um dia perguntei: “Por que os jornais não cobrem regular e criticamente o Poder Judiciário? É decisivo para a democracia.” Com seu realismo direto, respondeu: “Talvez porque as empresas jornalísticas tenham medo de um dia vir a precisar do Judiciário”.
Na mesma hora, entendeu que esse medo não fazia democracia. A Folha passou a ser pioneira no cobrir regularmente o Poder Judiciário.
Fez campanha por uma sabatina menos elogiante dos candidatos ao Supremo. Senadores começaram a se surpreender e ecoar perguntas da Folha. Foi crítica decisiva contra a lentidão processual e deslizes da magistratura. Combateu o juridiquês, tornou mais claro ao leitor a complexidade das sentenças.
Influenciou a criação do Conselho Nacional de Justiça. Na primeira sessão, o CNJ, com Nelson Jobim, decidiu focar no nepotismo e nos altos salários. Quase a linha editorial da Folha.
Abriu espaço para um constitucionalismo de realidades feito. Para análises quantitativas, como as do “Supremo em Números” e do “Justiça em Números”.
O importante não era somente a decisão final do juiz. Mas como se chegava a esta decisão. Quais compromissos políticos ou ideológicos dos ministros? Influências lícitas ou ilícitas? Abriu-se novas perspectivas de análise, reportagens investigativas. E editoriais vigorosos.
O mensalão foi coberto em Brasília pelo talento e equilíbrio de Marcelo Coelho. Um jovem grupo de professores escreveu do Rio cerca de 70 artigos em favor da independência do julgamento no Supremo. Na Operação Lava Jato, também.
Muitas vezes, um jovem professor carioca analisava na Folha a sessão de terça. Na de quarta, o ministro respondia. Praticou-se o diálogo codificado. Joaquim Barbosa, Ayres Britto, Ricardo Lewandowski, Cezar Peluso, Celso de Mello, Cármen Lúcia, Marco Aurélio engrandeceram-se no país.
Naquela época, a Folha já tinha um time especializado em Judiciário e Supremo: Uirá Machado, Frederico Vasconcelos e o importante Marcelo Coelho.
O leitor percebeu a complexidade do processo decisório judicial. Como a de um quadro de Escher. De quem Otavio tanto gostava. Aliás, capa de livro seu: “Seleção natural – Ensaio de Cultura e Política”.
Onde escadas descem quando sobem. Portas se abrem quando fechadas. Pássaros que, quando voltam, são peixes.
Fazer justiça é mais do que o exercício do contraditório. É arte combinatória, como diria Leibniz, a favor do conviver humano. Às vezes, as peças se encaixam. Às vezes, não. Ao leitor, cabe sempre julgar o último a julgar: o Supremo. Até hoje.