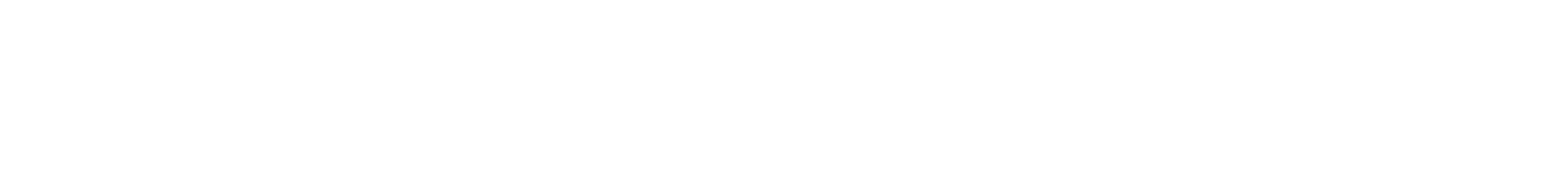A falta de recuperação e crescimento da economia brasileira se deve à interferência política no Banco Central por parte do presidente Bolsonaro? Do Congresso?
Tem alguém pressionando o Banco Central? Parece que não. Claro que não.
Mas, ao contrário, existem, sim, pressões de autoridades econômicas e de economistas para que o Presidente da República dê prioridade, este ano, a aprovação de projetos de lei que legalizem a autonomia do Banco Central.
Será medida preventiva contra mudança na atual política?
De qualquer modo, vai ser nova área de atrito entre Congresso e Executivo. Há pauta mais urgente. Não foi para conceder autonomia do Banco Central que o presidente e o Congresso foram eleitos.
Esta “autonomia”, que se traduz como necessidade de um mandato fixo para diretoria do Banco, é um mantra da política financeira ortodoxa. Tem quase cem anos.
O inglês Sir Otto Niemeyer veio aqui propor a Getulio em 1931. Não conseguiu. Campos e Bulhões propuseram ao regime militar. Costa e Silva anulou. A Constituinte de 1988 não considerou.
E, no entanto, insistem.
O argumento ad terrorem de sempre é a ameaça de uma hipótese. Se os políticos de esquerda, ou trabalhistas, assumirem o poder ou Bolsonaro trocar de ideia fixa, provoca-se a instabilidade da moeda.
A política financeira é apenas uma busca que se pretende racional. Pode não ser.
Talvez, fosse bom olhar os fatos desde 1988.
Quem mais mudou unilateralmente os presidentes do Banco Central foram Itamar Franco e Fernando Henrique. Lula teve um. Dilma teve outro. Temer um só também. E Bolsonaro também. Ou seja, se tivéssemos mandato fixo naquela época, não teríamos Plano Real.
Todos os diretores indicados pela Presidência da República para o Banco Central foram aprovados. Todos os candidatos a presidente também. Nunca, ninguém propôs um político para o Banco Central. Nunca houve um só pedido público para demitir diretores do Banco Central. O Congresso nunca foi esta temida fonte de irracionalidade.
Mais ainda. Os presidentes Ilan Goldfajn e Roberto Campos Neto não precisaram de uma legislação de mandato fixo para controlar a moeda e baixar a inflação. Por quê?
Porque foram e são autônomos de fato, ora pois!
Alguns economistas, autoridades, banqueiros e donos de fintechs parecem acreditar mais nas leis formais do que na consolidação de um hábito, de uma educação, de uma cultura financeira sadia e eficaz.
Quando controlam a inflação sem mandato fixo, pedem a nova lei que não precisaram. Como hoje. Será que a legalização do mandato fixo é para invocar, junto ao Supremo, quando não conseguem controlar a inflação?
Na verdade, vive-se, não somente no Brasil, período de potencial instabilidade financeira. De intensa mudança de legislação. De competição acirrada entre, agora, múltiplas e diferentes instituições financeiras. De grande mudança tecnológica.
O Brasil se acostumou a uma cultura onde o Banco Central tudo centralizava. Sobretudo com o controle das famosas “cartas-patentes” necessárias para abrir um banco. Não necessária, aliás, em muitos países. Este controle está em completa revisão.
O Brasil se acostumou também com um modelo onde o Banco Central é uma “reserva de mercado”. O diretor do banco privado hoje será o diretor do Banco Central amanhã. E vice-versa. São as famosas portas giratórias. Ou, em inglês, revolving doors.
Basta passar seis meses que se muda de lado. Do setor público para o setor privado. Ou vice-versa. Alguns pensam que são dois lados. Não são. São um só: o do patrimonialismo financeiro.
O poder que desequilibra a competição do mercado está no acesso que se tem ao conhecimento íntimo do Banco Central. Como controlar ou, pelo menos, minimizar este processo?
Se, por acaso, acontecer que o Presidente da República interfira na política monetária, contrariamente ao que o diretor acredita, é mais ético se demitir do que se ancorar no mandato fixo. Como aconteceu com Fernão Bracher. E deixe que os poderes da República funcionem.
Artigo publicado originalmente no jornal Correio Braziliense, em 23 de fevereiro de 2020.