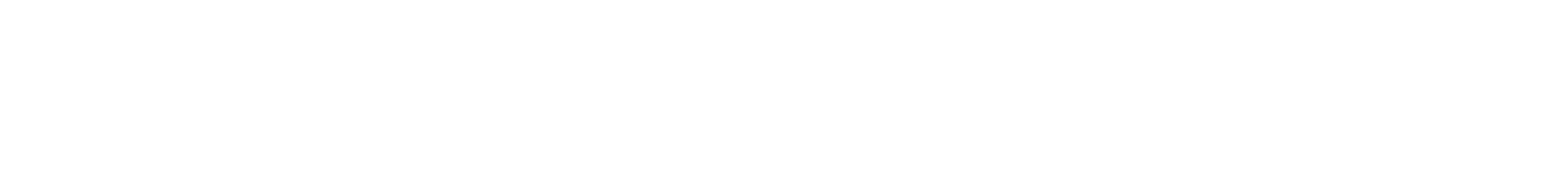Publicado originalmente no jornal Folha de S. Paulo no dia 05 de maio de 2000.
Em Porto Seguro, os índios não protestaram contra a invasão de suas terras. Nem reivindicaram novas demarcações. Esses problemas estão sendo solucionados. Nem americanos nem europeus, críticos contumazes, tão pouco autocriticos, fizeram o que já fizemos. Cerca de 6% de nosso território são hoje áreas indígenas preservadas.
Em Porto Seguro, o protesto foi maior e mais grave. Foi contra a não valorização da cultura indígena na formação da cultura brasileira. Foi contra a exclusão econômica, talvez mais.
Têm razão os índios. Pelo menos, por exemplo, no que diz respeito ao nosso patrimônio histórico e artístico. Criado em 1936, o Iphan (instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) até hoje não valorizou nenhum bem de origem indígena, como patrimônio. Por décadas, incluiu como patrimônio do Brasil apenas os bens da elite branca, portuguesa e católica. Só recentemente tombou alguns bens, pouquíssimos ainda, de etnias não européias. Ignorou, como ainda ignora, nossos índios.
Essa política do Iphan, há mais de 50 anos implementada, reduziu o Brasil a tal ponto que patrimônio histórico virou sinônimo de igrejas barrocas, palácios e casas-grandes. Essa redução, sem dúvidas, contribuiu para moldar, ainda que inconscientemente, a ênfase portuguesa e colonizadora que culminou na festa dos 500 anos.
Não se pode dizer que foi uma redução inconsciente. Não foi não. Em 1936, Mário de Andrade propôs em projeto de lei que fossem explicitamente considerados como patrimônio brasileiro o vocabulário, os cantos, as lendas, as magias, a medicina e a culinária ameríndios. Mário perdeu. Getúlio e Capanema deram preferência à arquitetura da elite como nosso maior patrimônio. O que foi importante, tão fundamental é essa arquitetura para nossa identidade. Na medida, porém, que essa preferência se perpetuou como exclusividade, o resultado foi inesperado: reduziram o Brasil. Tomou-se como todo o que é apenas parte.
A desvalorização da cultura indígena virou lugar-comum. Mesmo Rodrigo Mello Franco, diretor do Iphan, por mais de 30 anos, a quem tanto devemos, não acreditava numa eventual contribuição indígena: “É injustificável com efeito acreditar-se que os povoadores portugueses do Brasil tivessem vindo aprender com os nossos indígenas a erigir construções de madeira, técnica essa muito antiga e corrente na Europa…”. Lúcio Costa quando classificou para o Iphan as habitações brasileiras, listou todos os tipos de casas, como casas de fazenda, casas com portadas nobres, sobrados reinós, sobrados rococós, no total de 15. Nenhum referente à habitação indígena. Arquitetonicamente nossos índios inexistiam. E continuam a não existir.
A partir daí, a questão é: como os incidentes de Porto Seguro podem contribuir para que cultura brasileira encontre sua verdade: complexidade e amplitude? Ao nosso ver, três condições, entre outras, são necessárias.
Primeiro, a questão indígena precisa sair do passado para chegar ao futuro. Os países, como as pessoas, mudam. Mudam em quase tudo. Mudam de parceiros, de roupa, de preferências, de hábitos, de estilos. Só não se pode mudar é de passado. Aprisionar a questão indígena ao debate sobre o perdão ou a condenação, é optar pelo que foi, sobre o que pode ser. É substituir a tarefa pela confissão. É adiar a solução e perpetuar o problema. Ninguém ganha. Perdoados ou condenados. A questão indígena precisaria ser entendida muito mais como um pragmático desafio igualitário, do que como um imobilizador lamento conservador.
Segundo, não se trata apenas de uma questão de violência entre governo e índios. Não podemos nos empobrecer e apenas indagar sobre o culpado: quem protestou ou quem reprimiu? Porto Seguro foi a evidência da exclusão cultural e social dos índios e não pode ser reduzida a uma decisão do atual governo federal. Vem de séculos. É prática, além de governamental, social e difusa. Da sociedade em seu todo.
Como em qualquer relação fracassada, cada lado culpa o outro. Em geral ambos estão errados. O culpado são ambos. Ou melhor, são todos os envolvidos na relação. Governo e sociedade, elite e trabalhadores, brancos, mulatos, negros e índios também. A culpa social não é nem unívoca, nem unilateral. Colocar a culpa apenas no governo é um dos caminhos da redução do Brasil. É caminhar para o impasse. Para a não-mudança. Se a sociedade não muda, o governo tampouco.
Finalmente, Porto Seguro sensibilizou o país favoravelmente à causa indígena. Nossas lideranças, indígenas e oficiais sobretudo, precisam agora traduzir essa sensibilização em ação. A eventual repetição e banalização do pacto perverso entre protesto e repressão pode atender a interesses políticos e ganhar espaço na mídia. Dificilmente fará o país valorizar e preservar a cultura indígena. Sem a qual não somos.
Quanto ao Iphan, uma comissão, formada por Eduardo Portella, Marcos Vilaça, Thomaz Farkas e eu, entregou ao ministro Francisco Weffort e ao presidente FHC um anteprojeto de decreto capaz de fazer vencedora, mais de 50 anos depois, a proposta inicial de Mário de Andrade – e assim contribuir, minimamente, para reconciliação igualitária das múltiplas fontes étnicas e econômicas da cultura brasileira. O Brasil será globalmente tanto mais autônomo e poderoso quanto mais complexa e participatória for sua cultura.
Joaquim Falcão, 56, é secretário-geral da Fundação Roberto Marinho e professor da Faculdade de Direito da UFRJ e da FGV.