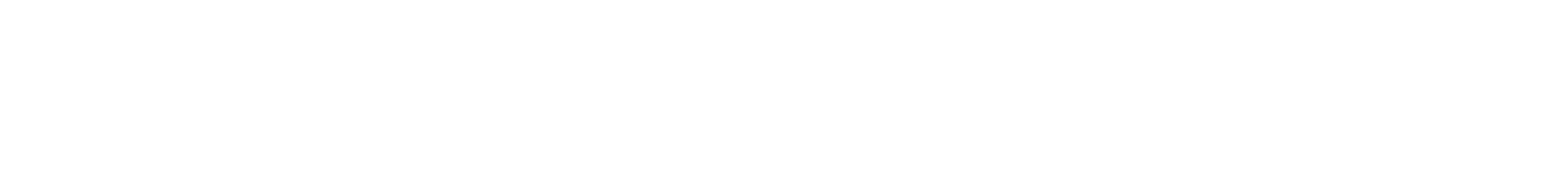Fala do Acadêmico Joaquim Falcão em homenagem a São Paulo, à Academia Paulista de Letras (APL) e ao Hospital Sírio-Libanês, que completou seu centenário neste ano, na sessão virtual da APL do dia 08 de julho de 2021.
Caros amigos, amigas, colegas,
Muito contente, honra demais, estar aqui com vocês hoje.
Agradecimento especial a José Renato Nalini, nosso presidente, pelo generoso convite. Colega de várias batalhas em favor de um melhor direito e melhor justiça para o Brasil.
Abraço fraterno a todos em nome de colegas de vida: Eros Grau, Tercio Sampaio Ferraz, Miguel Reale, José Gregório, Rubem Barbosa, Bolívar Lamounier, Ives Gandra e nosso Raul Cutait.
Saudação especial aos três colegas de ABL que aqui estão, Ignácio Loyola, Celso Lafer e também Lygia Fagundes Telles, escritora nossa maior. Saúdo, por antecipação, outros futuros colegas daqui que estarão lá um dia!
Também deixo uma palavra de tristeza pelo falecimento da acadêmica Renata Pallottini.
Trago saudação especial de nosso colega presidente da ABL, Marco Lucchesi.
José Renato ofereceu-me quinze minutos para falar. Assunto livre. Supremo? Ativismo? Democracia? Ensino jurídico? Fiquei em dúvida. Liguei para o Eros e perguntei: O que falo? Ele respondeu na hora: “Ué, fala sobre você, tchê!”
Confesso que gostei imensamente do tema… É um dos meus preferidos. Mas, ponderei-me, a mim mesmo. Como pernambucano, o tema seria interminável. Lembrei-me de outro pernambucano, Cícero Dias: “Eu vi o mundo… ele começava no Recife”. Para mim, não. Eu diria que o mundo começa em Olinda. E não terminaria nunca. Seria outra Guerra dos Mascates?
Resolvi, então, homenagear o Brasil que hoje muito precisamos. Mas como? Homenageando vocês, acadêmicos, São Paulo e a Academia Paulista de Letras. Contando experiência vivida aqui mesmo em São Paulo por um pernambucano. De tão verdadeira, esta experiência é quase um conto.
Ou melhor, um conto com pitangas de reflexão.
Com maracujás de humor também.
Qual título daria a este conto-experiência? Pensei juntar duas características minhas: uma expansiva e gostosa hipocondria com um crescentemente pouco saber jurídico. O título seria então: “O direito de não ter liberdade”.
As pessoas em geral lutam pelo o direito de liberdade. De ir e vir. De escolher. Mas, neste conto, preferi não ter o direito de não ter liberdade. Por quê? Explico.
*
O café da manhã chegou. Eram 6:30, mais ou menos. Eu, sonolento, perguntei: “A senhora pode trazer às 8 horas? Gosto de dormir até mais tarde.” A moça logo respondeu: “Posso não, posso não. O protocolo não permite. Tem que ser agora.”
Tomei.
“Inspire, expire, inspire, expire. Mais forte. É bom para o senhor.” – “Mas já estou cansado.” – “O protocolo manda o senhor repetir dez vezes seguidas. Vamos lá.”
Repeti.
“Um copo d’água, por favor.” – “Não, não pode. O protocolo só permite umedecer os lábios com este algodão.”
Logo percebi que eu não tinha mais a liberdade de comer, de respirar, nem de beber. Fiquei meio confuso.
Quando perdi a liberdade? Para quem? Por quê? Por quanto tempo? Como vou recuperá-la?
Eu estava em um hospital paulista!
Logo me dei conta que tinha perdido minha liberdade para o “protocolo” hospitalar. Meu último ato de liberdade, meu último ato de livre vontade, de livre arbítrio, tinha sido me inserir no sistema normativo dos protocolos do Sírio-Libanês. Agora sou um paciente.
Não é à toa que juízes e advogados às vezes chamam as partes, especialmente em habeas corpus, de “paciente”.
Fiquei meio preocupado com minha nova situação. O fracasso de todo hipocondríaco, como eu, é ficar doente. Embora eu nunca tenha ultrapassado, no ranking dos hipocondríacos imortais, o meu querido mestre da ABL e de todos nós juristas, Evaristo de Moraes Filho, o jurista sociólogo, de direito do trabalho.
Tinha dias, contou-me Regina Lúcia, sua filha, que Evaristo acordava, vestia-se de terno, paletó, camisa branca e gravata, deitava-se na cama em pânico. Cruzava as mãos e dizia: “Vou morrer”. Não morria. Chegou aos cento e dois anos.
Quando, então, eu me dei conta. Abri mão de minha liberdade quando passei pela catraca de entrada do Sírio. Ali troquei o direito à liberdade pelo direito à vida. Perdi aquele, na esperança de reconquistar este.
*
Tudo começou assim.
Eu ia passar uma semana trabalhando em São Paulo. Depois, iria para Viena e Veneza, onde talvez fosse encontrar Eros e Tania Regina, Tercio e Sonia Regina. Não saem de lá.
Jantei na terça-feira com Nelson Jobim e resolvi fazer, totalmente assintomático, um check-up no Sírio ou no Einstein. Fui para o Sírio. Cutait me decidiu. Foi este o meu último desejo, diria o samba de Noel Rosa?
Fazer um check-up no Sírio é hoje sinal de status global. É curriculum vitae. Literalmente. E foi o que eu fiz. Mas antes consultei amigos médicos.
“Olha, Joaquim, existem mais de 5.000 doenças catalogadas. Não vá fazer check-up coisa nenhuma. Eles são muito bons. Vão encontrar alguma doença. É matemático.”
Foi. Encontraram.
Mas até hoje não sei precisamente qual foi a doença. Hipocondríaco não ouve, teme.
Na verdade, hipocondríaco não teme muito a doença, pois ele desconfia dela. Gosta mesmo é de audiência. É um megalomaníaco. No fundo, quer controlar a própria natureza.
Sei que foi algo cardíaco. Abriram meu tórax. Distribuíram-se um bom número de pontes de safena e mamárias. Quem bem sabe delas é o incrível Dr. Fabio Jatene, com o incrível Dr. Marcello Barduco, ambos sob o olhar fraterno do Raul Cutait.
Não sei bem o que houve, porque não perguntei. E também porque a segunda decisão, ainda livre, que tomei, foi a de constituir um comitê de gestão da minha não liberdade hospitalar. Gestores da minha ignorância e da minha vida. Além de Dr. Jatene e Dr. Marcello, chamei meu médico do Rio, Dr. Ênio Duarte, pois ele conhece todos meus pânicos. Além de Vivianne, minha mulher, e meu filho Manuel. Quando começaram a conversar, logo disse: “Decidam!”, disse. Entreguei-me. Saí da sala.
E fui comer uma excelente esfiha na lanchonete.
*
Estava agora, sem volta, inserido em um sistema normativo privativo. O “sistema de protocolos” do Sírio. Protocolo é um conjunto de regras que governam a sintaxe, a semântica e a sincronização da comunicação e da conduta humana.
É um sistema mais amplo, poderoso e implementável do que o sistema legal. Do que a própria Constituição. Tem a legitimidade, eficiência, eficácia e avaliação mensurável, que tanto nos falta em nosso direito positivo estatal.
Invade, prende, amordaça, tira do ar, anestesia, regula a liberdade física e espiritual do paciente. Faz do sonho o pesadelo. E vice-versa. Não respeita limites, como a Constituição respeita.
Não respeita privacidade, intimidade, inspirar, expirar, nem mesmo o batimento cardíaco ou fluxo sanguíneo. Aliás, não respeita nem o próprio pudor. Fiquei logo nu com minhas vergonhas de fora.
Inclusive, o que primeiro você perde é o pudor. Na esperança de poder, por último, recuperá-lo. Com vida e vestido.
Fui percebendo pouco a pouco, e muito, que o protocolo hospitalar tem mais ambições do que uma Constituição. É lei maior. Tem maior força de implementação. De onde vem tanto?
Quem é a norma fundamental do sistema normativo do protocolo hospitalar? A Constituição, o sistema normativo constitucional, diria Frei Caneca, pernambucano, baseia-se no pacto social. E não em Deus, ou em D. Pedro I, como queriam alguns. Pobre Frei, pagou caro por isto.
Mas, no fundo, a Constituição, diante da obstrução coronariana, delegou sua força implementativa, o seu não-saber-garantir-a-vida, não ao pacto social. Nem a Deus ou a D. Pedro I.
Mas a algo maior: ao saber técnico-científico. É a nova norma fundamental dos nossos dias. Universal. Igualitária. Global. É o que ocorre nestes dias de pandemia.
Ocorre também, como ensina outro pernambucano, Cláudio Souto, o saber técnico-científico é um saber provisório, consensual e acumulativo. Ou seja, todo protocolo é verdadeiro e efêmero ao mesmo tempo. Dúvida. Teria eu trocado o direito de viver por um protocolo efêmero que se intitula de “científico”?
Vou fazer um intervalo ilustrativo.
*
Carl Von Clausewitz, em seu clássico “Da Guerra”, alertou que a educação de massa, como a entendemos, hoje nasce da necessidade de se vencer a guerra. É uma tática. Treinável.
Paulo Chapchap uma vez me disse que o moderno hospital hoje em dia é um sistema de comunicação. Acrescento que precisa vencer a guerra contra a doença dupla. Ou seja, um hospital hoje é um triplo sistema: normativo, educacional e de comunicação.
O desafio maior de seu sucesso, para vencer a guerra, é o seguinte. Como fazer com que a ordem, a norma, a tática e a estratégia que um general estabelece, lá bem longe, bem protegido em seu gabinete prussiano de barrocos e dourados – hoje, diríamos em seu situation room –, seja transmitida, entendida, cumprida e chegue intacta na ponta? Ao soldado ou ao internauta, no campo de batalha? Chegue precisa na espada ou no bisturi?
Como evitar ruídos, interpretações, desinterpretações e mal-interpretações do soldado ou do enfermeiro e do médico? As mensagens, as ordens, vindo lá de cima, são todas vulneráveis. Transmitidas por textos cifrados, escritos, orais. Gritos, rufar dos tambores. Cornetas. Receitas médicas. Fórmulas.
Na guerra, todos têm que se comportar como previsto. A ordem tem que ser unívoca. O protocolo hospitalar é uma ordem unívoca. Por todos entendida. Vinda, como lembra Raul Cutait, de um só comando.
Como se existisse um artigo da Constituição inviolável pela vaidade e interesses, conspirações e malformações ministeriais.
Foi necessário inventar um sistema de transmissão com o mínimo de probabilidade de imprevisto, ruídos ou erro. Todos deveriam se comportar da mesma maneira, no mesmo tempo, com os mesmos objetivos. De forma unívoca. Surge, então, a educação de massa.
O protocolo é um instrumento de educação de massa. Partilha um conhecimento que se faz coletivo.
Existe um certo silencioso sabor de guerra em alguns momentos de um hospital. Sente-se bem quando se está numa unidade de emergência. Enquanto não se é atendido e não existe um diagnóstico, sente-se que há uma pressa no ar, um frenesi, uma seriedade circunspecta, uma sobreatenção aos fatos quase militar.
Respeitar protocolos científicos é necessidade de coletividade unida, e não de individualismos separatistas. Sobretudo estimulados por negacionismos de agentes psicopatológicos e ditatoriais.
Numa UTI chamada Brasil, onde estamos todos hoje, necessitamos, como no Sírio, de união em torno da ciência, mesmo que efêmera e experimental. É o que melhor temos.
É como se momentaneamente vaidades, emoções, gritos, ambições e ignorâncias tivessem que desparecer em nome da vida. Em nome da precisão. Em nome da ciência e consciência.
Paira no hospital, no protocolo, uma grande tentativa de impor cálculo, previsão, racionalidade sobre qualquer emoção individualizada e anárquica. Seja do paciente, dos médicos ou das enfermeiras.
E se esta veia ou artéria não forem lógicas, racionais, às vezes se pergunta um médico, na sala, ao vivo e na hora que está passando. Agora. Neste preciso instante. Já passou?
Ao contrário da Constituição, cujo efeito é dificilmente mensurável, somente de quatro em quatro anos, os protocolos são normas pragmáticas. Voltadas para a ação.
Curar é um ato de cons-ciência aplicada a partir do qual a saúde da democracia precisa para florescer.
Termino.
*
Comecei dizendo que escolhi homenagear a APL, São Paulo e o Brasil. Foi o que fiz através deste conto de experiência feita no Sírio-Libanês.
Porque o Sírio-Libanês, que este ano completou seu centenário de existência e de excelência, simboliza o aperfeiçoamento institucional que tanto nossa democracia precisa no Brasil de hoje. A continuidade institucional.
Porque o Sírio, como a APL, foram criados pela inciativa da sociedade, dos paulistas, iniciativas civis que tanto precisamos para conter o onipresente Estado ditatorial de hoje.
Porque o Sírio foi criado por senhoras, mulheres brasileiras e imigrantes, de quem tanto esperamos hoje para uma mais igualitária convivência e o progresso.
Porque o Sírio e a APL simbolizam o direito à liberdade de expressão, de pesquisa, de educação, que tanto precisamos defender no Brasil de hoje. É o que faço agora.
Meu conto é político. É defesa da democracia.
*
“A senhora pode me dar meu casaco?”
“Faz muito frio aqui em São Paulo estes dias.”
“Obrigado. Vamos por onde?”
“Vamos pelo térreo, desceremos no térreo.”
“No primeiro, no corredor, à direita, está escrito: Saída.”
“Pode deixar a cadeira de rodas aqui mesmo.”
Deixei. Passei pela catraca. Passei de pé. Recuperei meu pudor e minha liberdade. Valeu ter tido o direito de perdê-la.
Estou livre e vivo para continuar a defender a prática e os valores da liberdade constitucional.
Obrigado.