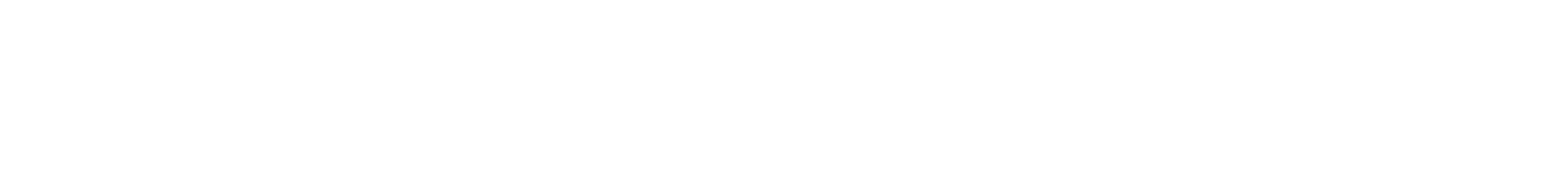Publicado originalmente na Folha de São Paulo no dia 19 de dezembro de 2000.
Desde a constituição de 88 o Brasil se esforça em reconstruir suas instituições democráticas. Dentre elas, reconstruir um Supremo Tribunal Federal dotado de duas qualidades fundamentais: que não seja submisso ao Executivo e ao Legislativo e separe o direito e a justiça da política e da dominação autoritária. O principal modelo dessa reconstrução desde Rui Barbosa é a mítica Suprema Corte dos EUA. Um mito agora em crise, incapaz de esconder sua intensa paixão pela política. Pior. Capaz de usar a lei e a justiça como instrumento de uma paixão partidária.
São os próprios ministros americanos quem diz isto. Os gritos e sussurros dessa paixão vieram a público no julgamento das eleições. Deve ter sido intensa a briga. A tal ponto que a ministra Ruth Ginsburg – liberal democrata indicada por Clinton – não se conteve. Não começou seu voto perdedor (que discordou do voto vencedor do ministro Anthony Kennedy, conservador republicano, indicado por Reagan) com a fria, cordial e neutra fórmula que diz: “I respectfully dissent” (eu respeitosamente discordo). Dispensou o “respectfully”. Começou, quase como um sussurro de raiva, com: “I dissent”. Ponto.
Como também não se conteve o mais velho dos ministros, John Paul Stevens, um liberal, ainda que indicado pelo republicano Gerald Ford. Gritou e fez uma autocrítica pública, algo inédito na história do Supremo. “Embora nós jamais possamos conhecer com certeza completa a identidade do vencedor da eleição presidencial deste ano, a identidade do perdedor é perfeitamente clara. É a confiança da nação no juiz como um guardião imparcial do império da lei”.
O grave é que a paixão partidária da justiça norte-americana, não se limitou a Suprema Corte. Foi mais ampla. Na Flórida, por exemplo, onde o Supremo estadual e democrata, Gore ganhou.
Será que a regra recôndita é esta? Tribunais de maioria democrata dão vitória aos democratas, e tribunais de maioria republicana, aos republicanos? Será que a justiça é apenas o resultado dos votos de juízes pertencentes a facções políticas concorrentes? Não é por menos que uma das principais questões dos americanos durante a campanha eleitoral foi sobre o perfil ideológico dos candidatos que Bush e Gore indicariam para as próximas vagas do Supremo.
Eis aí um bom tema para os presidenciáveis brasileiros e que exigir atenção do eleitor, dos juristas e da mídia. Sobretudo se considerarmos que nessa reconstrução democrática em que vivemos, o poder do Judiciário cresce dia a dia. O próximo presidente deverá indicar pelo menos três ministros. Quem serão? O que farão com tanto poder?
O mito da neutralidade da lei e da imparcialidade dos juízes tem sido fundamental para o Estado de Direito. Em princípio, não existe Estado de Direito sem que a lei tenha certa autonomia diante da política. Quando este mito está em crise, como parece estar agora nos EUA, juízes e tribunais, direito e justiça, se limitam a ser instrumentos de dominação do partido que controla o tribunal.
Quando isso ocorre, as sentenças ficam previsíveis. Ganha sempre o mais forte em votos. Mas o tribunal perde legitimidade. Tal como ocorreu no início do regime autoritário no Brasil, quando ministros foram cassados, o número de integrantes do Supremo foi aumentado, foram indicados juristas de confiança e tudo se fez para tornar as decisões judiciais previsíveis – sempre a favor da ideologia da segurança nacional.
Para que um mito sobreviva, é necessário que exista, aqui e ali, alguma evidência palpável de sua possível realidade. É preciso que o mito não seja apenas fantasia. No caso, seria necessário evidência de que a neutralidade e a imparcialidade de fato existem. O mito é real.
O que a crise norte-americana sugere, no entanto, é que a neutralidade e imparcialidade necessárias à democracia podem, devem e existem nos julgamentos secundários, quando o poder maior não está em jogo. Mas quando o poder maior, a Presidência, está em jogo, a partidarização política, substitui a imparcialidade e a neutralidade. O mito se revela ideal inalcançável.
É precipitado afirmarmos, como a decisão pró-Bush sugere, que a essência da natureza atual do Supremo norte-americano seja um recôndito compromisso partidário, uma eterna vinculação ideológica entre o ministro e o presidente que o indicou. Ser democrático apenas no acessório foi o que aconteceu no Brasil durante o regime autoritário. O eleitor podia votar no vereador, prefeito, deputado, senador, todos que não fossem fundamentais para o poder real. Naqueles momentos, o regime se pretendia democrático. E ganhava legitimidade. Mas quando o poder real estava em jogo, – escolher governador e presidente -, o eleitor não podia votar diretamente. A escolha era indireta. O regime então se revelava autoritário. E perdia a legitimidade que ganhara. A democracia era apenas uma pretensão insincera.
É precipitado afirmarmos, como a decisão pró-Bush sugere, que a essência da natureza atual do Supremo norte-americano seja um recôndito compromisso partidário, uma eterna vinculação ideológica entre o ministro e o presidente que o indicou. Afinal estamos diante de um país que tem levado muito longe a concretização do ideal democrático. E sua Suprema Corte tem sido um dos principais responsáveis pela tarefa.
Mas pelo menos duas conseqüências podem ser retiradas do episódio. A primeira diz respeito aos EUA e já está acontecendo: a unção de Bush.Há desdobramentos. No médio prazo vê-se a discussão da reforma eleitoral. No longo prazo, o repensar do Supremo como uma instituição de legitimidade inatacável. É o debate que os meios políticos, acadêmicos, a mídia, a elite, os americanos em geral estão iniciando. Uma legitimidade indispensável para cumprir a lei. Como reconstruir, substituir ou abandonar o mito da neutralidade da lei e da imparcialidade do juiz?
A segunda diz respeito a nós, aqui no Brasil, e ainda não está acontecendo. Até que ponto vamos continuar a reconstruir nossas instituições democráticas, políticas, jurídicas ou econômicas buscando inspiração apenas em instituições do modelo liberal ocidental? Essas instituições muitas vezes são adequadas ao seu próprio país, mas não passíveis de exportação. Outras vezes estão até em crise. A crise da justiça americana deve nos estimular a ver os EUA como uma fundamental e respeitável, mas não exclusiva, fonte de inspiração. E nunca de imitação.
Na construção de nossa democracia, temos, urgentemente, de diversificar as fontes de inspiração de nosso futuro.